ECONOMIA SOLIDÁRIA E ANÁLISE ORGANIZACIONAL:
DIALOGANDO COM GUERREIRO RAMOS
ÁREA
TEMÁTICA: PRINCÍPIOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
Gildásio
Santana Júnior - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/ Escola de
Administração da Universidade Federal da Bahia - gildasiojr@uol.com.br
Resumo
Este
artigo tem o objetivo de relacionar análise organizacional e economia
solidária. Para isso, coteja-se, especificamente, a análise de Guerreiro Ramos
sobre a teoria das organizações com o fenômeno da economia solidária. A
problemática que anima a discussão é como a análise organizacional pode
compreender o fenômeno da economia solidária? Mais precisamente, procura-se
investigar em que medida o arcabouço teórico analítico desenvolvido por
Guerreiro Ramos constitui-se como um instrumental pertinente para reflexão da
economia solidária. Os procedimentos metodológicos adotados passam por uma
análise crítica-comparativa de uma formulação teórica (a obra de Guerreiro
Ramos) com os contornos de um objeto empírico (fenômeno da economia solidária).
Lança-se mão de citação e de quadro explicativo. Conclui-se que o modelo
multidimensional e a discussão da racionalidade propostos por Guerreiro Ramos
possibilitam uma base teórica para refletir sobre economia solidária. Assim,
pode-se afirmar que Guerreiro Ramos apresenta importantes contribuições no
sentido de formatação de um quadro interpretativo para o fenômeno da Economia
Solidária.
PALAVRAS
CHAVES: ECONOMIA SOLIDÁRIA, GUERREIRO RAMOS, ANÁLISE ORGANIZACIONAL
1. Introdução
Se no limiar do século XX a ciência era tida como a forma
racional de conceber e o único meio legítimo para produção de conhecimento, no
início do séc. XXI tais certezas não existem mais. Talvez por isso, observamos
a ciência mergulhada numa crise sem precedentes, crise essa que representa
queda de certezas, de paradigmas e de referências.
A Teoria das Organizações não saiu ilesa deste processo. Se
iniciávamos o século anterior com as certezas de Taylor e da administração
científica, hoje o campo dividiu-se e busca, das mais variadas formas,
encontrar análises convincentes. Ao longo do século XX a teoria organizacional
ampliou seu poder de análise, porém não conseguiu ficar isenta da crise.
Diante de tal trajetória e com a emergência de novos
fenômenos como a análise organizacional pode explicá-los? Qual o tratamento que
deve ser dispensado para tais acontecimentos? Que caminhos trilhar? São
questões que pululam na escrivaninha até dos mais convictos dos cientistas da área
organizacional. Neste sentido, como a análise organizacional pode compreender o
fenômeno da Economia Solidária?
Dessa forma, este artigo tem o objetivo de relacionar a
perspectiva de Guerreiro Ramos[1]
na análise organizacional com o fenômeno da economia solidária. A partir,
portanto, da análise desse autor (tal como ele desenvolvera no livro A Nova
Ciência das Organizações, em 1989), busca-se situar a economia solidária
numa problemática de teoria organizacional. Em termos da estrutura,
apresentamos inicialmente o tema da Economia Solidária, que é abordado
especialmente em relação ao seu sentido e gênese que situam suas experiências.
Em seguida, apresentamos o próprio campo dos estudos organizacionais, a fim de
contextualizar minimamente a perspectiva de Guerreiro Ramos. Posteriormente
apresentamos algumas interpretações desse autor visando evidenciar algumas
singularidades da sua reflexão. A idéia é de estabelecer, na seqüência, uma
correspondência com o tema da economia solidária.
2. Economia Solidária
A temática da economia
solidária tem adquirido bastante visibilidade no período recente com uma
intensidade cada vez maior. Seja no ambiente acadêmico, donde várias áreas do
conhecimento elegem a economia solidária como objeto de reflexão; seja no
âmbito governamental com a criação de pastas e setores referentes (No Brasil
foi criada a Secretária Nacional de Economia Solidária [SENAES] do governo
federal e outras congêneres nas esferas estadual e municipal). Tal visibilidade
é ocasionada pela ampliação dos números de experiências produtivas que se
reivindicam solidárias, pela organização e atuação dessas em fóruns e redes. Só
no Brasil, levantamentos preliminares da SENAES indicam a ocorrência de mais de
20.000 organizações econômicas solidárias.
Os participantes do
“movimento” por uma economia solidária criticam a estrutura social capitalista
e aponta uma série de propostas visando o bem viver para todos, de forma
colaborativa/integrada e desenvolve arranjos sócio-produtivos distintos das
empresas capitalistas. Eles defendem uma outra lógica de mundo, onde a
competição dê lugar ao relacionamento fraterno, as agressões ao meio ambiente
sejam substituídas por uma convivência harmoniosa com a natureza, a atividade
laboral das pessoas deixe de ser alienante e desinteressante e passe a ser
criativa e fonte de realização.
As organizações de economia solidária propõem de um
lado resolver o problema da sobrevivência mais imediata através de alternativas
econômicas, e, por outro lado, construir nessas alternativas novas formas de
participação e decisão política que vão de encontro ao modelo capitalista e em
busca de um novo patamar de desenvolvimento social. Aliás, essas práticas
questionam em seus objetivos o próprio modelo de desenvolvimento capitalista,
propondo uma nova forma de desenvolvimento sócio-econômico.
2.1. A Gênese da Economia Solidária
A visibilidade que o movimento conseguiu no Brasil é
fruto de uma intensa agitação que começa no final dos anos oitenta com a
reflexão sobre os programas de geração de trabalho e renda até chegar à
constituição do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), em 2003.
Todavia a origem da economia solidária, pelo menos na
Europa e América Latina, remonta desde os primórdios do capitalismo; dessa
forma, podemos relacionar a economia solidária a Revolução Francesa e a
Revolução Industrial, no caso da Europa (Singer, 2002; França Filho e Laville,
2004) e ao processo de colonização, em se tratando de América Latina (Moreno,
2001; Guerra 2004).
Segundo
Pablo Guerra (2004) o termo, os fundamentos teóricos e o sentido específico da
economia solidária foram criados na América Latina, através dos trabalhos de
Luis Razeto[2],
em princípios dos anos 1980; Guerra chega a afirmar que existem duas matrizes
analíticas da economia solidária: uma latino-americana e outra européia.
Com efeito, a partir das heranças do modo de vida de
indígenas e africanos, percebe-se que um padrão de vida comunitário, baseado na
reciprocidade perpassou a região latino-americana. Esses costumes e tradições
permaneceram ao longo de gerações como, por exemplo, as práticas sociais de
mutirão, da colheita conjunta etc.. A partir dos processos de independência
política e abolição da escravatura nos países da América Latina, os indígenas e
os ex-escravos ficaram sem os meios de produção para garantir o seu sustento. Como
os pólos mercantil e estatal da economia não garantiram absorção dessa parcela
de trabalhadores, eles tiveram de engrossar e desenvolver práticas econômicas
alternativas para garantir a sobrevivência, ensejando uma espécie de economia
dos setores populares.
Assim, se na Europa a gênese de atividades econômicas com
solidariedade esteve relacionada com as reminiscências do trabalho
associado/comunitário e a luta dos artífices em se contraporem a forma e a
organização fabril capitalista, alimentada pelos ideais da revolução francesa
(E. P. Thompson, 1987); na América Latina o
começo de uma economia com solidariedade foi gestado a partir das estratégias
de sobrevivência dos indígenas, dos negros e de parcelas dos imigrantes que
estavam marginalizados na lógica produtiva aplicada na região.
Gaiger (2004)
adverte que,
várias condições necessitam ser atendidas,
concorrendo para isso diferentes elementos, cuja presença e cuja força muitas
vezes dependem de condições criadas ao longo do tempo, à revelia das intenções
ou graças a iniciativas conscientes e gradativamente amadurecidas pelos
sujeitos que protagonizam o novo solidarismo econômico. Tais experiências,
imersas em histórias individuais e coletivas, não obedecem a leis de geração
espontânea, não germinam artificialmente e apenas em casos especiais podem ter
o seu nascimento abreviado. A formação de sujeitos populares ativos e
organizados – misto de necessidades e de vontades – conhece poucos atalhos e muitos
desvios.
Assim,
aponta os seguintes elementos como condicionantes do surgimento das
organizações econômicas solidárias;
i)
a
presença de setores populares com experiência em práticas associativas,
comunitárias ou de classe (...) nas quais forjaram uma identidade comum,
criaram laços de confiança e desenvolveram competências para sua organização e
para a defesa de seus interesses.
ii)
a
existência de organizações e lideranças populares genuínas, vincadas nos
movimentos de ação direta e nos sistemas de representação dos interesses
coletivos próprios àqueles segmentos sociais.
iii)
Chances
favoráveis para que práticas econômicas associativas sejam compatíveis com a
economia popular dos trabalhadores, amoldando-se nos arranjos individuais,
familiares e semicoletivos que lhes asseguram a subsistência e que estão
inscritos em sua experiência e nos seus círculos de relação e de influência.
iv)
A
presença de entidades e grupos de mediação, aptos a canalizar as demandas dos
trabalhadores para alternativas associativas e autogestionárias.
v)
A
incidência concreta, sobre trabalhadores em questão, dos efeitos da redução das
modalidades convencionais de subsistência, seja devido à menor absorção ou
maior seletividade do mercado de trabalho, seja devido à ineficácia das
políticas públicas destinadas a gerar oportunidades econômicas ou compensar
momentaneamente a sua insuficiência.
vi)
A
formação de um cenário político ideológico que reconheça a relevância dessas
demandas sociais e das alternativas que apontam, as quais passam a penetrar em
amplas frações dos movimentos sociais e na institucionalidade política.
Logo, de uma forma geral, podemos indicar três
vertentes para a retomada da economia solidária na atualidade: crise do emprego
assalariado, a limitação de ação do Estado nas áreas de bem estar, a associação
da iniciativa econômica com atitudes solidárias e a elaboração duma alternativa
econômica e social ao capitalismo e ao socialismo burocratizado, representado
pela experiência do Leste europeu.
2.2. As práticas que compõem a Economia Solidária
As práticas que animam a economia solidária, de uma
maneira geral e tipológica, podem ser enumeradas como comércio justo, finanças
solidárias, economia sem dinheiro, empresas sociais, arranjos produtivos
solidários e entidades de apoio e fomento das práticas solidárias. Elas surgem
a partir das ações de combate a pobreza, programas de manutenção e ampliação de
postos de trabalho, lutas pela preservação ambiental, ações democratizantes de
utilização do fundo público, projetos de desenvolvimento (sobretudo local) e
novas formas de integração entre regiões (Sul/Norte).
Cabe destacar que a economia solidária enfatiza as
relações culturais, a possibilidade de ganho, mas não a lógica da maximização
dos mesmos. E sugere um olhar para tais empreendimentos a partir de pilares que
não sejam exclusivamente a partir da lógica gerencialista de eficiência.
Ressalta-se, também, que para ser considerado uma organização de economia
solidária não basta ter o título de cooperativa ou associação, pois sabemos que
diversas associações, cooperativas e até ONGs, funcionam com práticas idênticas
da organização capitalista, tais como: a heterogestão, falta de transparência,
o assalariamento, utilização da competição e a busca incessante de lucros.
Logo a Economia Solidária tem sido analisada como um
fenômeno distinto das organizações capitalistas e trazendo consigo diversas
particularidades. França Filho e Laville (2004) compreendem a economia
solidária como uma tentativa inédita de articulação entre a economia mercantil
(mercado – trocas), não-mercantil (Estado – redistribuição) e não monetária
(reciprocidade – dádivas), conformando uma economia plural que hibridiza
princípios econômicos. Além disso, eles afirmam que a Economia solidária “refere-se a experiências em que o emprego
não representa um fim em si mesmo. Ele parece representar muito mais um meio
para descoberta de sentido de elaboração em comum de projetos econômicos”
(p. 187, 2004).
Gaiger (2004), por sua vez, considera que as práticas de
Economia Solidária representam experiência de emancipação do trabalho
desumanizado, o que implica a restituição do trabalhador à condição de sujeito
de sua existência. Assim, a partir de tais particularidades, pode-se afirmar
que as práticas de Economia Solidária constituem-se como uma organização de
formato diferenciado das organizações capitalistas.
A partir de tais particularidades, como o quadro
analítico dos estudos organizacionais e particularmente o aporte teórico
desenvolvido por Guerreiro Ramos interpreta o fenômeno da Economia Solidária?
3. Algumas visões do campo dos estudos organizacionais
Não é surpresa a constatação que organizações
transformaram-se nos últimos anos, seja no seu formato e arquitetura, na sua
composição e estruturação; bem como que a análise e a reflexão sobre elas se
transformaram bem mais. Da concepção da organização como máquina, trabalhada
pelos pioneiros da Administração Científica, chegamos a vê-la como prisões
psíquicas, conforme salienta Morgan (1996).
A explicação para tal fato decorre do próprio
conceito de organizações e da relação que os pesquisadores travam com o objeto
Além do papel do pesquisador, outro fato que
contribui para a vasta produção na ciência em geral e no campo dos estudos
organizacionais em particular é a velocidade e quantidade de mudanças no
contexto social. São mudanças na geopolítica, na tecnologia, na economia, nos
costumes que atravessam as organizações exigindo um desenho diferenciado e
mutante, ao mesmo tempo, que possibilita mais (ou menos) visibilidade em
algumas características da organização diferentemente do período anterior.
Logo, constatamos uma longa trajetória, desde o
mecanicismo, com metas e objetivos, até um conjunto de parâmetros analíticos
que concebe como variável interpretativa as questões de sexualidade, as
questões familiares, a morte, a infância etc. Entre estes extremos foram
elaboradas diversas outras formas de conceber a organização e dada tamanha
produção surgiram alguns trabalhos visando classificar as produções no campo
dos estudos organizacionais, a exemplo dos trabalhos de Burrell e Morgan, 1979;
Morgan, 1996 e Michael Reed, 1998.
Guerreiro Ramos (1989), diferentemente dos autores citados
acima, não tem o objetivo principal de desenvolver uma tipologia dos estudos
organizacionais, todavia ao fazer uma análise crítica da produção dos estudos
organizacionais, ao longo do seu texto, é possível identificar uma determinada
classificação. Durante sua argumentação podemos encontrar uma divisão do campo
em três grupos: administração científica (Taylor), operacionalistas
positivistas (Simon) e teoristas humanistas (Mayo).
Cada classificação responde a uma concepção de
análise, porém todas elas demonstram a amplitude de teorias e metodologias
utilizadas para melhor compreender as organizações. A classificação de
Guerreiro Ramos propõe compreender as organizações com alguma particularidade.
Ele adota um conjunto de variáveis que coloca os atributos relacionados com o ethos de uma sociedade centrada no mercado em segundo plano. Julga-os
inadequados para fundamentar uma análise organizacional capaz de dar conta do
conjunto de organizações da sociedade, bem como de compreender os principais
dilemas que o mundo atual enfrenta.
Desta forma, a análise de Guerreiro Ramos, apesar de
ter sido elaborada há algum tempo, ainda possui uma impressionante vitalidade e
proximidade com o fenômeno da economia solidária, pois desloca o mercado da
centralidade da análise. Vejamos, então, as particularidades da reflexão de
Guerreiro Ramos.
Alberto Guerreiro Ramos (1989) critica a existência
do mercado na condição de única via de regulação e interação social. Aponta
para a possibilidade e a necessidade de além do mercado outras formas de
interação social a partir de uma lógica diferente do utilitarismo.
Assim, neste trabalho, Guerreiro Ramos tem o objetivo de
contrapor um modelo de análise de sistemas sociais e de delineamento
organizacional de múltiplos centros ao modelo atual centralizado no mercado,
que dominou as empresas privadas e a administração pública no século XX. Ele
defende a tese que uma teoria da organização centralizada no mercado não é
aplicável a todos os tipos de relação/espaços que comporta a sociabilidade
humana, mas apenas a um tipo especial de atividade. Para ele, a aplicação dos
princípios mercantis a todas as formas de atividades estaria dificultando a
atualização de possíveis novos sistemas sociais, necessários à superação de
dilemas básicos de nossa sociedade. Vejamos que a partir desta análise as
práticas de economia solidária adquirem uma relevância e podem ser
interpretadas com categorias distintas das utilizadas na compreensão das
organizações mercantis.
Ele argumenta que o modelo de alocação de mão-de-obra e de
recursos, implícito na teoria dominante de organização, não leva em conta as
exigências ecológicas e não se vincula, portanto, ao estágio contemporâneo das
capacidades de produção.
Para Guerreiro Ramos a ciência social moderna foi articulada
com o propósito de liberar o mercado das peias que, através da história da
humanidade e até do advento da revolução comercial e industrial, o mantiveram
dentro de limites definidos. Ele afirma que por mais de dois séculos, o
restrito alcance teórico da moderna ciência social tem sido a causa de seu
notável sucesso operacional e prático, no entanto, hoje em dia, a expansão do
mercado atingiu um ponto de rendimentos decrescentes, em termos de bem-estar
humano. Ou seja, as bases da ciência moderna, deliberadamente voltadas
excessivamente para o mercado, não nos forneceriam as bases de entendimento da
atual sociedade. Assim sendo, concluímos que esta ciência moderna que Guerreiro
Ramos faz alusão não teria condições de entender fenômenos organizacionais que
se distanciam da lógica mercantil, dentre esses fenômenos incluímos a Economia
Solidária.
O construto teórico de Guerreiro Ramos é lastreado a partir
das críticas da razão moderna e através desta crítica ele pretende chegar à
nova ciência das organizações, pois, para ele, a razão é o conceito básico de
qualquer ciência da sociedade e das organizações. Sendo assim, ele julga que os
aportes feitos, até então, sobre razão[3],
como insuficientes. Sejam quanto a encarar consistentemente a complexidade da
razão (Max Weber, Karl Mannheim); ou por deixarem de prover a nova ciência das
organizações e da sociedade da perícia operacional e analítica exigida pelas
condições históricas do nosso tempo (Eric Voegelin) ou pelo cunho historicista
que empregam a análise (Escola de Frankfurt).
Ou seja, Guerreiro Ramos faz uma tentativa de identificação da
epistemologia inerente à ciência social estabelecida, da qual a atual teoria
organizacional é um derivativo. Ele trabalha a diferenciação entre
racionalidade instrumental (determinada por uma expectativa de resultados, ou
“fins calculados”) e racionalidade substantiva (determinada “independentemente
de suas expectativas de sucesso” e não caracteriza nenhuma ação humana
interessada na “consecução de um resultado ulterior a ela”) realizada por
Weber.
Seu principal argumento é que a ciência social estabelecida
também se fundamenta numa racionalidade instrumental, particularmente
característica do sistema de mercado. Para ele a teoria da organização, tal
como é hoje conhecida, é menos convincente do que foi no passado e, mais ainda,
torna-se pouco prática e inoperante, na medida em que continua a se apoiar em
pressupostos ingênuos.
Para Guerreiro Ramos todos os autores revisitados por
ele parecem concordar em que, na sociedade moderna, a racionalidade se
transformou numa categoria sociomórfica, isto é, é interpretada como atributo
dos processos históricos e sociais, e não como força ativa na psique humana.
Todos eles reconhecem que o conceito de racionalidade é determinativo da abordagem
dos assuntos pertinentes ao desenho social. No entanto, todos eles seriam menos
do que suficientemente sistemáticos na apresentação de suas opiniões sobre tais
assuntos.
A partir do trabalho de Guerreiro Ramos podemos “pinçar”
contribuições à teoria organizacional no sentido de analisar o fenômeno da
Economia Solidária: a discussão sobre racionalidade substantiva, a
desnaturalização da racionalidade instrumental e apresentação da proposta de um
modelo multidimensional de organização social. As questões sobre razão
substantiva e desnaturalização da racionalidade instrumental fazem parte da
mesma discussão e está implícita na parte crítica da análise. O tópico do
modelo multidimensional diz respeito ao plano propositivo da obra. Analisemos
com mais detalhes o aporte propositivo.
O modelo multidimensional de análise social é concebido para
contrapor o que ele chama de modelo unidimensional das ciências que enfatiza o
mercado como único meio alocador de recursos e intermediários das relações
produtivas e sociais. No modelo multidimensional, Guerreiro Ramos considera o
mercado como um enclave social legítimo e necessário, contudo este é limitado e
regulado. Para Guerreiro Ramos,
o ponto central desse
modelo multidimensional é a noção de delimitação organizacional, que envolve:
a) uma visão de sociedade como sendo construída de uma variedade de enclaves
(dos quais o mercado é apenas um), onde o homem se empenha em tipos nitidamente
diferentes, embora verdadeiramente integrativos, de atividades substantivas; b)
um sistema de governo social capaz de formular e implementar as políticas e
decisões distributivas requeridas para a promoção do tipo ótimo de transações
entre tais enclaves sociais. (Guerreiro Ramos, 1989, p.140)
A multidimensionalidade proposta pelo autor está ancorada
numa pluralidade de enclaves sociais no sentido que o indivíduo conseguisse
alcançar sua realização pessoal nos múltiplos aspectos.
Assim, o modelo de análise e de planejamento social
teria de levar em conta as questões de orientações individuais e de orientações
comunitárias como pólos necessários. E, a partir dessa dupla condição, teria
que considerar um ambiente com prescrições e outro com ausência de normas;
Quadro 1 - MODELO MULTIDIMENSIONAL DE ORGANIZAÇÃO
SOCIAL
![]()
![]()
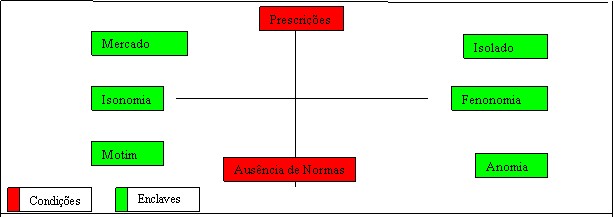
Fonte: Guerreiro Ramos, 1989, p.
141.
O eixo vertical representa o nível das prescrições e
das normas inerentes às atividades na sociedade, no extremo superior é
assinalado o máximo de prescrições e na parte inferior do eixo estaria
indicando a ausência de normas. O eixo horizontal indica a relação entre as
ações comunitárias e as individuais.
A partir da interseção dos eixos, cada quadrante
assume uma característica dual. Com tais características Guerreiro Ramos
completa seu modelo alocando os enclaves em local específico. Os quadrantes da
esquerda indicam as seguintes combinações: orientação comunitária/com
prescrições; orientação comunitária/ausência de normas; os quadrantes da
direita sinalizam: orientação individual/com prescrições e orientação
individual/ausência de normas. Além destes quatro pólos, têm-se duas situações
de meio termo (orientação comunitária/prescrição-ausência de norma e orientação
individual/ prescrição-ausência de norma e orientação).
Cada configuração dual representa um enclave social
com características determinadas; dessa forma, temos um enclave mercado
(atividade realizada não individualmente e sujeita a prescrições); o enclave do
motim (atividade realizada com muitos participantes com ausência de norma); o
enclave isolado (atividade realizada individualmente e atendendo as
prescrições); o enclave anomia[4]
(ações isoladas sem atentar às normas). Nas situações de meio termo, temos o
enclave da isonomia[5] e da
fenonomia[6].
Até que ponto a Economia Solidária se ajusta na proposta
de Guerreiro Ramos? Poderíamos considerá-la como uma isonomia? O fenômeno atual
da Economia Solidária fica contemplado a partir das análises e prognósticos
elaborados por Guerreiro Ramos?
5. Economia Solidária e a Análise de Guerreiro Ramos
Observa-se uma convergência entre as proposições de
Guerreiro Ramos (modelo multidimensional) e a prática da economia solidária.
Pois a discussão da economia solidária resgata a importância do debate sobre
racionalidade no campo dos estudos organizacionais. O modelo multidimensional proposto por Guerreiro Ramos compreende
e faz referência a uma sociedade composta por vários enclaves sociais.
Porém, diferentemente do que está implícito em
algumas passagens de Guerreiro Ramos, esta grade analítica não deveria deixar
de levar em conta que estamos diante da sociabilidade capitalista e que esta
tem suas características bem definidas.
Considero que Guerreiro Ramos atribuiu um papel
central a nova ciência social e por conseqüência aos cientistas no
estabelecimento do desmascaramento da sociedade de mercado e o estabelecimento
de outra sociabilidade. Ao fazer isso, será que não estaria incorrendo em erros
semelhantes àqueles que ele condena dos opositores da sociedade de mercado?
Será que não estaria sendo idealista e ingênuo, a ponto de considerar que o
restabelecimento da racionalidade substantiva por si só conduziria os homens a
uma nova sociedade? Pois, se a sociedade é conduzida por um determinado caminho
graças à ação da racionalidade instrumental, que permeou os vários aspectos do
cotidiano, como a ação individual pode se contrapor e vencer um arranjo tão
totalizante?
Há que se registrar na análise de Guerreiro Ramos uma
forte dose de idealismo que coloca os destinos da eficiência organizacional
dependente das virtudes de cidadãos orientados para o bem comum. Mas, assim
como Habermas (1995) sentencia para política, temos que admitir que tal
proposição caminha para o estreitamento de uma compreensão ética. Assim sendo,
tal questão apresenta-se como o calcanhar de Aquiles de tais interpretações.
Guerreiro Ramos critica a existência do mercado na
condição de única via de regulação e interação social. Aponta para a
possibilidade e a necessidade de, além do mercado, outras formas de interação
social a partir de uma lógica diferente do utilitarismo. Contudo, considero a
conceituação de mercado que ele emprega imprecisa. O mercado que opera com a
lógica utilitarista e com racionalidade instrumental é o mercado capitalista;
se quisermos operar com mercados, necessariamente, não precisa ser um mercado
capitalista. Pois não devemos confundir e atribuir o mercado (fato muito comum)
como algo exclusivo do capitalismo.
No entanto, o mercado capitalista tem características
e formas de atuação e, mais importante, sua existência e funcionamento
pressupõe e exige um tipo de relação social – multilateralização[7]
das necessidades, unilateralização[8]
dos produtores, lucro, salários, exploração e apropriação do trabalho alheio.
Diante disso, a proposta de pluralidade de enclaves
sociais presente na concepção de Guerreiro Ramos precisa encarar este problema:
não existe pluralidade econômica com a presença de um tipo de organização
social capitalista, pois a organização capitalista de acumulação de mercado
subordina outras formas organizativas. Com isso não estamos afirmando a
impossibilidade da pluralidade de formas de relação humana, todavia afirmo isto
ser impraticável (enquanto prática central) nas hostes do capitalismo. Nossa
afirmação também não significa que só poderemos pensar e até buscar a
pluralidade e outras categorias quando superarmos o capitalismo. Mas representa
apontar que o que se quer com pluralidade implica no confronto e superação do
capitalismo.
Para finalizar podemos
afirmar que Guerreiro Ramos apresenta importantes contribuições no sentido de
formatação de uma grade analítica para o fenômeno da Economia Solidária. No
entanto, considero que estes aportes ainda são insuficientes para dar conta da
riqueza e possibilidades de tal objeto. Neste sentido, teríamos de avançar para
estruturação de um quadro analítico mais complexo. A princípio pode-se apontar
um conjunto de autores e categorias que poderiam compor tal grade analítica:
Karl Marx (interpretação crítica do capitalismo); Guerreiros Ramos (razão,
desnaturalização da racionalidade instrumental e análise multidimensional da
sociedade); Polanyi (economia plural) etc.
Porém, de imediato surge uma questão: há
possibilidades do estabelecimento de diálogo entre autores e conceitos de
matrizes epistemológicas tão distantes? As categorias tratadas por cada autor
citado não seriam conflitantes, e, desse modo, não caminharíamos para o
ecletismo?
Pois bem! Compreendemos que é a partir deste desafio
e deste limite que se deve trabalhar objetivando estruturar uma grade analítica
interpretativa da Economia Solidária.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BURREL,
G., MORGAN, G.. Sociological paradigms and
organizational analysis. Londres: Heinemann, 1979.
CLEGG, S.
R.. & HARDY, C. Introdução: Organização e Estudos Organizacionais. In: CLEGG, Stewart R., HARDY, Cintia. & NORD,
Walter R.. Handbook de Estudos Organizacionais 1. São Paulo:
Atlas, 1998.
FRANÇA
FILHO, G. C. de. “Novos arranjos organizacionais possíveis? O fenômeno da
Economia Solidária em questão (Precisões e complemento)”. ORGANIZAÇÃO E SOCIEDADE,
n. 20, v. 8, Salvador: EAUFBA, jan/abr, 2001.
FRANÇA
FILHO, G. C. “Terceiro Setor, Economia Social, Economia Solidária e Economia
Popular: traçando fronteiras conceituais.” In: BAHIA ANÁLISE E DADOS. V 12, n1.
Salvador: SEI, julho de 2002.
FRANÇA
FILHO, G. C. “A temática da economia solidária e suas implicações para o campo
dos estudos organizacionais”. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, vol. 37, n. 1,
Rio de Janeiro: FGV, jan/fev 2003.
FRANÇA
FILHO, G. C. de. & LAVILLE, J. L. Economia Solidária: uma abordagem
internacional. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2004.
GAIGER, L. I. G. (org). Sentidos e experiências da
economia solidária no Brasil. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004.
GUERRA, P.
Socioeconomia para a América Latina. www.pabloguerra.tripod.com.
Capturado no dia 17.06.2005
GUERREIRO
RAMOS, A. A nova ciência das organizações – uma reconceituação da riqueza das
nações. 2° edição,
Rio de Janeiro: FGV, 1989.
Kraychete, G. et all. Economia dos Setores Populares: Entre a
realidade e a utopia. Petrópolis: Vozes; Rio de Janeiro: Capina; Salvador:
CESE: UCSAL, 2000.
Marx. K. O Capital. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
MORGAN, G.
Imagens da Organização. São Paulo: Atlas, 1996.
NASCIMENTO,
A. “Cartaz: Guerreiro Ramos”. Jornal O QUILOMBO, ano 2, n. 9, p.2, 1950 (edição
fac-similar, Rio de Janeiro: Editora 34, 2003).
OLIVEIRA,
L. L. A Sociologia do Guerreiro. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1995.
POLANY, K.
A grande Transformação: as origens da nossa época. Rio de Janeiro: Campus,
1980.
REED, M.
Teorização Organizacional: um campo historicamente contestado. In: CLEGG, Stewart R., HARDY, Cintia. & NORD,
Walter R.. Handbook de Estudos Organizacionais 1. São Paulo:
Atlas, 1998.
SANTOS, B.
S. & RODRÍGUEZ, C. Introdução: para ampliar o cânone da produção. In:
SANTOS, B. S. (org.). Produzir para
viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2002.
SINGER, P.
Introdução à Economia Solidária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo,
2002.