CRESCER COOPERANDO
Trabalho na
Sociedade Contemporânea
Cláudio Roberto de Jesus - Centro Universitário Newton Paiva - claudiobh@uol.com.br
Wanessa Pires Lott - Centro Universitário Newton Paiva - wlott@uai.com.br
Resumo
O presente projeto propõe um estudo do
cooperativismo e da economia popular solidária em Minas Gerais. O ressurgimento
e ampliação do cooperativismo tem colocado novas questões para o debate
acadêmico atual. Por um lado, há um consenso de que o cooperativismo não é um
movimento único e uniforme, existem avanços e retrocessos, instituições sérias
e outras no mínimo suspeitas. De outro lado, diante dessa diversidade, ainda
não se tem informações qualitativas suficientes para entender esse fenômeno
como um movimento. Nesse sentido, o projeto proposto tem a pretensão de
contribuir para tal debate.
Palavras-chave
Cooperativismo;
economia popular solidária, Minas Gerais;
1.
Introdução
As
transformações recentes no mundo do trabalho decorrentes do atual processo de
globalização têm colocado grandes desafios para aqueles que buscam compreender
o momento. Especular torna-se uma tarefa fácil na medida em que o deslumbre e o
romantismo tendem a sobrepujar o rigor científico e a disciplina metodológica.
Até o momento a grande certeza que podemos ter em relação ao futuro é que
dificilmente iremos reconstruir os laços de solidariedade dos “anos dourados”.
A
bem da verdade, a obra de Robert Castel (1998) é extremamente importante na
medida em que, ao fazer a crônica do salário, nos instiga a entender os
conflitos que vivenciamos. Mais ainda, aponta os paradoxos que hoje vivenciamos
de forma mais contundente, tanto no que diz respeito a relação
indivíduo/sociedade, bem como do ponto de vista das instituições sociais. Cabe
destacar de forma breve, o trato que Castel dá em relação à condição do
assalariado no contexto de desenvolvimento do capitalismo. A transição do
feudalismo para o capitalismo é essencialmente um processo de ruptura de
tradições e instituições sociais, onde os laços morais são gradativamente
suplantados por relações monetárias, traduzidas na essência pelo salário. “A
burguesia desnudou de sua auréola toda ocupação até agora honrada e admirada
com respeito reverente. Converteu o médio, o advogado, o padre, o poeta, o
cientista em seus operários assalariados” (MARX & ENGELS 1996, p. 13).
Castel chama a atenção para o fato de que a condição
de assalariado, até meados do século XIX, é algo indigno. Receber um salário,
em última instância, significava uma derrota. O trabalhador assalariado era
aquele, que por diversos motivos, não tinha os meios de produzir a sua
sobrevivência e dessa forma não tinham outra opção, a não ser se submeterem às
ordens de um patrão e à rotina extenuante da jornada de trabalho. O salário na
verdade passa a ser a última e/ou única opção para aqueles que não desejavam a
marginalidade.
Se ser assalariado era ser um derrotado, por que hoje
a condição de assalariado nos remete a idéia de privilégio?
O entendimento de tal questão remonta ao
desenvolvimento e consolidação da sociedade salarial durante o século XX,
especialmente no período pós Segunda Grande Guerra. A expansão da condição de
assalariado para a grande maioria da população, com o desenvolvimento de uma
rede de proteção social e as conquistas dos sindicatos levou a formação da
sociedade salarial, onde:
Cada um se compara a todos, mas também se distingue de
todos; a escala social comporta uma graduação crescente em que os assalariados
dependuram sua identidade, sublinhando a diferença em relação ao escalão
inferior e aspirando ao estrato superior. A condição operária ocupa sempre, ou
quase sempre, a base da escala (há os imigrantes, semi-operários, semibárbaros,
e os miseráveis do quarto mundo). Mas que prossiga o crescimento, que o Estado
continue a estender seus serviços e suas proteções e, quem merecer, poderá
também “subir”: melhorias para todos, progresso social e bem-estar. A sociedade
salarial parece arrebatada por um irresistível movimento de promoção:
acumulação de bens e de riquezas, criação de novas posições e de oportunidades
inéditas, ampliação dos direitos e das garantias, multiplicação das seguridades
e das proteções.” (CASTEL, 1998, p. 417)
Assim sendo, nos países de capitalismo avançado o
salário deixa de ser um meio de sobrevivência e torna-se um fator de construção
de identidades. Mais que isso, o salário passa a ser uma das principais fontes
de integração social. Tal situação, mesmo nos países ditos emergentes, promoveu
uma maior solidariedade social na medida em que houve uma diminuição dos
conflitos de classe.
No caso dos países desenvolvidos houve, via ação do
Welfare State, uma significativa redução das desigualdades sociais, além disso,
o salário colocado como um direito garante aos indivíduos a inserção no
cotidiano do consumo. Outro ponto de destaque diz respeito à suposta
estabilidade e renda garantida dada pelo contrato de trabalho por tempo
indeterminado. Na verdade, cria-se um imaginário social pautado em relações
duradouras e na medida do possível “imutáveis”. Aqueles que preferissem assumir
os riscos e imponderáveis do mercado tinham abertas às oportunidades
empreendedoras e o mercado informal. Assim sendo, a informalidade e o
empreendedorismo se colocavam como uma opção, para aqueles que poderiam ganhar
mais ou não se adequavam ao mercado formal.
Dessa forma, pode-se considerar que o salário ainda
hoje é um dos fatores que garantem minimamente a coesão social, o grande
problema é que essa relação não é mais possível para a maioria dos
trabalhadores, além disso, os que ainda estão no mercado formal encontram-se
numa situação de precarização intensa e cada vez mais ameaçados pelo crescente
exército industrial de reserva. O que há de mais revelador na atual crise do
mundo do trabalho é a fragilidade de tal construção social, uma vez que a
lógica de funcionamento do capital é por excelência substituição de trabalho
humano por maquinário e a manutenção de um contingente de desempregados a fim
de rebaixar salários (Castells, 1999).
Uma outra possibilidade de leitura da sociedade
salarial é, com efeito, de que a idéia de segurança e estabilidade, do ponto de
vista ideológico, escamoteia uma situação de subserviência e acomodação da
classe trabalhadora, seja porque há um favorecimento a incompetência – visão
liberal, ou porque a classe trabalhadora deixou de lado os ideais
revolucionários para se inserir na sociedade de consumo. O que chama a atenção
é que, de fato, a sociedade salarial, como organização social e fonte de
solidariedade, impõem limites aos indivíduos, principalmente porque não se
altera o princípio fundamental capitalista da propriedade privada dos meios de
produção.
Diante desse quadro, pode-se dizer que o furacão neo
liberal que solapou as bases da sociedade salarial está longe de ter terminado.
Mais que isso, o que se tem observado é uma intensificação da desigualdade
social na maioria dos países, com conseqüente aumento da violência,
drogatização, individualismo e dissolução dos laços de solidariedade (MARTINS,
1996) A questão a ser abordada nesse artigo, ainda que de forma preliminar, diz
respeito ao(s) movimento(s) que de alguma forma tentam (re) construir laços de
solidariedade a partir das relações de trabalho. Será dada ênfase em dois
processos recentes observados em Minas Gerais, o grande crescimento de
cooperativas na década de 1990 e a formação da rede de Economia Popular
Solidária - EPS. Antes porém, será feita uma breve discussão a respeito de dois
pressupostos teóricos que servem de fio condutor para análise dos casos
citados.
2. Economia Solidária e Dádiva
A idéia da economia da dádiva tem como fundamento
principal as idéias de Marcel Mauss, contidas no livro Ensaio sobre a dádiva,
onde apresenta a idéia de que as trocas têm um papel fundamental nas sociedades
tribais, uma vez que fundamental as relações de solidariedade a partir da
obrigação de dar, receber e retribuir. Assim sendo:
De um ponto de vista sociológico, podemos dizer que toda
dádiva tem por finalidade a criação, manutenção ou regeneração do laço social, pois
se trata de um processo sem fim, onde a relação importa mais do que a coisa
dada. A economia da dádiva é regida por três obrigações, que se realizam em
momentos distintos: dar, receber, retribuir. Ela implica a existência de uma
economia não mercantil, onde não há fixação de preços nem pagamento em
dinheiro. Tampouco se trata de trocas imediatas de objetos ou serviços
considerados pelas partes como equivalentes. A dádiva é, ao mesmo tempo,
obrigatória e espontânea, gratuita e interessada, incondicional e condicional. (LECHAT & SCHIOCHET, 2003, P.
84) (grifo meu)
Tomada dessa forma, a dádiva não só estabelece laços
de solidariedade, mas configura-se em um tipo específico de relação social onde
a coesão é determinada por uma relação econômica, que é ao mesmo tempo política
e social. Nesse caso, o processo de produção e distribuição de riquezas não se
dissocia da vida cotidiana do indivíduo, muito menos se sobrepõe a ela,
determinando suas ações tendo em vista um mercado. A finalidade de se produzir
algo não é a coisa em si, e não é simplesmente uma questão de sobrevivência,
mas tem um sentido social de existência.
O modo de produção capitalista não só estabelece uma
produção que visa a criação de excedente, como também impõe uma distribuição
desigual da riqueza produzida. Já o princípio da dádiva estabelece uma lógica
de produção distinta uma vez que o produto final é visto como conseqüência. O
sentido da vida social se faz no produzir e não em vender, trocar, acumular.
Como aponta Clastres:
Podemos admitir, a partir de agora, para qualificar a
organização econômica dessas sociedades, a expressão economia de subsistência,
desde que não a entendamos no sentido da necessidade de um defeito, de
uma incapacidade, inerentes a esse tipo de sociedade e à sua tecnologia, mas,
ao contrário, no sentido da recusa de um excesso inútil, da vontade de
restringir a atividade produtiva à satisfação das necessidades. E nada mais.
(...) E, ao descobrirem a superioridade produtiva dos machados dos homens
brancos, os índios os desejaram, não para produzirem mais no mesmo tempo, mas
para produzirem a mesma coisa num tempo dez vezes mais curto. (CLASTRES, 2003,
p. 213/14) (grifo do autor).
É claro que os valores do mercado se generalizaram
por todo o planeta, não propriamente por uma questão de aceitação, mas sim de
forma imperativa e violenta. O autor chama a atenção para o fato de que a
produção de excedente é algo que tem haver com os festejos, as relações
políticas, os excessos permitidos.
É nesse sentido que as trocas têm um importante papel
na vida da comunidade, pois é a partir delas que se fundamentam e se fortalecem
os laços sociais, sejam os laços individuais, ou as relações entre os grupos.
Dar, receber e retribuir estabelece também uma relação política de boa
vizinhança com outros grupos, uma vez que tende a minimizar as rivalidades.
3. Capitalismo e cooperação
Normalmente tem-se um imaginário da sociedade
capitalista como uma grande arena de competição, ações individuais, ações
empreendedoras, reguladas pela “mão invisível” e a relação entre oferta e
demanda. Tal imagem não é por completo errônea, mas em última instância
distorce os fundamentos da produção capitalista. Antes de ser uma sociedade de
competição e concorrência, o capitalismo é um sistema que se estrutura
fundamentalmente na cooperação, esta entendida como “a forma de trabalho em que
muitos trabalham juntos, de acordo com um plano, no mesmo processo de produção
ou em processos de produção diferentes, mas conexos.” (MARX, 1982, p. 374)
O que Marx quer chamar a atenção é para o fato de que
os trabalhos individuais são pouco produtivos na medida em exacerbam os
defeitos (e qualidades) e perde-se o ganho em escala. Para ele, a utilização de
vários trabalhadores em uns determinados local traz uma grande vantagem no
processo produtivo uma vez que os materiais concentrados, podem servir a várias
pessoas. Por outro lado, se o dispêndio de força e capital para construir uma
fábrica ou galpão é grande, maior seria se essa construção fosse fragmentada.
Uma das grandes revoluções advindas do modo de produção capitalista está ligada
ao ganho de escala, o que só é possível com a concentração de um grande número
de trabalhadores, pois as diferenças individuais (mais ou menos produtivo) cria
um “tempo de trabalho médio” (MARX, 1982)
É justamente o trabalho alienado que leva a uma idéia
de um trabalhador individualizado, fragmentado no processo produtivo. Ainda
hoje identificamos uma exaltação ao trabalho individual na empresa na medida em
que a grande maioria toma como base de suas gratificações a meritocracia.
Atualmente a teoria do capital humano teima em insistir que as habilidades
pessoais é que vão fazer a diferença em termos de produtividade. Mesmo os
“gurus” da administração que disseminam a idéia do trabalho em equipe,
enfatizam de forma entusiasmada o papel do líder, do proativo e outros “tipos
ideais” de trabalhadores, o que na verdade não passa de discurso recheado de
chavões surrados. O que não é novidade é o fato de que:
Não se trata aqui da elevação da força produtiva individual através da
cooperação, mas da criação de uma força produtiva nova, a saber, a força
coletiva. Pondo de lado a nova potencia que surge da fusão de muitas forças
numa força comum, o simples contato social, na maioria dos trabalhos
produtivos, provoca emulação entre os participantes, animando-os e
estimulando-os, o que aumenta a capacidade de realização de cada um. (MARX,
1982, p. 374/5)
A idéia de cooperação assim colocada vai para além da
simples divisão de tarefas:
Quando os trabalhadores se completam mutuamente fazendo a mesma tarefa
ou tarefas da mesma espécie, temos a cooperação simples. Acentuamo-la porque
ela desempenha importante papel mesmo no estágio mais desenvolvido da
cooperação. Se o processo de trabalho é complicado, a simples existência de um
certo número de cooperadores permite repartir as diferentes operações entre os
diferentes trabalhadores, de modo a serem executados simultaneamente,
encurtando-se assim o tempo de trabalho necessário para conclusão de todas as
tarefas. (MARX, 1982, p. 376)
Diferentemente das sociedades tribais citadas no
tópico anterior, onde a cooperação de muitos trabalhadores ocorria
esporadicamente, seja na construção de uma nova habitação ou para a promoção de
uma festa, no capitalismo esse esforço coletivo é contínuo, elevando assim, de
forma nunca vista na história da humanidade, a produção de riquezas.
Ao que parece, no mundo globalizado de hoje, a
cooperação entre atores situados nas mais diferentes partes do planeta tem contribuído
decisivamente para o salto tecnológico e aumento da produtividade mundial. A
medida em que os processo produtivos tornam-se mais complexos há um novo
reordenamento na divisão internacional do trabalho. No entanto, cada vez mais
tem-se uma menor necessidade do uso intenso do trabalho coletivo, o que não
quer dizer que estejamos retomando a um modo de produção individualizado. O que
ocorre é a produção de um enorme exército industrial de reserva, mais que isso,
a criação de um contingente de supranumerários, termo empregado por Castel
(1998) para designar aqueles que hoje estão excluídos do mercado de trabalho.
Só que essa exclusão tem um caráter permanente, ou seja, mesmo que as economias
nacionais voltem a crescer, vamos continuar a ter um número significativo de
pessoas fora do mercado, em síntese, pessoas que não servem nem para serem
exploradas pelo capital.
4. A Economia Popular Solidária em Minas
Gerais
Antes de tudo é preciso deixar claro o significado de
Economia Popular Solidária, uma vez que o conceito não diz respeito
simplesmente a uma forma de produção popular, ou economia de subsistência. Mais
que isso, o conceito abrange uma gama de empreendimentos que tem como base a
idéia de solidariedade, ou seja, formas de produção que promovam a emancipação
econômica e resgate da dignidade com promoção da cidadania. Dessa forma, os
empreendimentos ligados à EPS são desde cooperativas a organizações familiares,
não é a forma ou tamanho que lhes conferem uma identidade, mas sim os ideais
que norteiam as ações dos indivíduos.
A EPS no Brasil, de uma forma geral, ainda é uma
experiência um tanto quanto insipiente, além disso, há uma grande dificuldade
de se saber, através de dados confiáveis, a caracterização dos empreendimentos.
Apesar do esforço Secretaria Nacional de Economia Solidária em fazer um amplo
mapeamento, ainda não se sabe ao certo qual a dimensão e alcance dos
empreendimentos ligados a EPS. No caso de Belo Horizonte, foi feita uma
pesquisa de campo[1],
no início de dezembro de 2004, durante a 2ª Feira Mineira de Economia
Solidária, que tinha a pretensão de fazer uma breve caracterização dos
empreendimentos participantes. Sendo assim, os dados não revelam um perfil
fidedigno da EPS na Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH, mas sugerem
questões para o debate.
Um primeiro ponto a se destacar diz respeito a forma
de organização dos empreendimentos. A grande maioria são grupos informais
(71%), ou seja, empreendimentos com pequeno número de participantes e com
vínculos baseados em grande parte em laços de confiança e reciprocidade. Do
ponto de vista jurídico são organizações frágeis e têm grande dificuldade de
acesso a apoio institucional para o desenvolvimento e sobrevivência do grupo.
Ainda compõe a amostra cooperativas (12%), seguidas das associações (10%) e
outros (7%).
Outro ponto que chama a atenção é que a maioria dos
empreendimentos, independente da sua forma de organização, é bem recente, ou
seja, do ano 2000 em diante houve um grande crescimento tanto dos grupos
informais como das cooperativas e associações. É claro que as ações
governamentais de apoio e incentivo a EPS tem tido um papel importante para o
crescimento do número de empreendimentos, mas não se pode esquecer que o número
de cooperativas, como será exposto posteriormente, e trabalhadores do mercado
informal também tem sofrido um considerável aumento a partir da década de 1990.
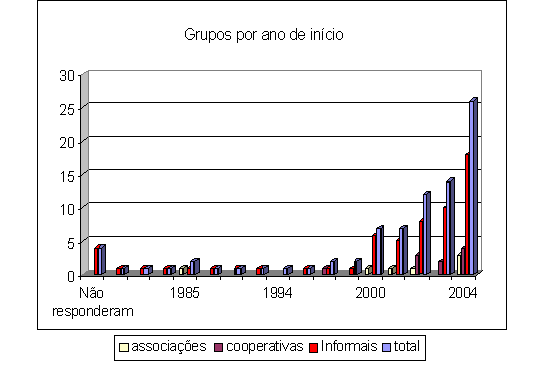
O
que se pôde observar durante a Feira é que a grande maioria dos produtos em
exposição eram pouco sofisticados em termos do uso de tecnologia para a sua
produção. Uma boa parte da produção é feita de forma artesanal, com destaque
para os artigos de vestuários (44%), bijuterias (31%), cama, mesa e banho
(18%), bolsas (13%), dentre outros. Os produtos agrícolas apareceram com menor
freqüência tendo em vista o perfil da Feira, sendo assim, uma gama de
empreendimentos representativos da EPS ficou de fora da pesquisa.
O tipo de produto produzido e a sua qualidade tem
reflexos diretos sobre os rendimentos e forma de comercialização os produtos.
As feiras regulares ou eventuais (64%) têm um peso considerável em termos de
comercialização, assim como a venda em casa (38%) e de “porta em porta” (35%).
Uma pequena minoria tem loja própria ou vende diretamente seus produtos a um
comprador fixo regular.
Por fim, ao analisar o nível de renda gerado pelo
empreendimento (33% menos de um salário mínimo, 25% perto de um, 14% cerca de
dois e apenas 7% acima de três; 21% não respondeu ou não sabia) é assustador o
fato de que a grande maioria oferece baixas remunerações. Esses dados, ainda
que exploratórios, permite inferir que os grupos, no geral, têm uma produção
voltada para a subsistência. É claro que os dados são limitados na medida em
que desconsideram as práticas e os valores que permeiam as relações dentro dos
grupos.
5. O boom do cooperativismo mineiro
A análise acerca do crescimento do número de
cooperativas em Minas Gerais teve como base os dados da Organização das
Cooperativas Brasileiras - OCB e da Organização das Cooperativas do Estado de
Minas Gerais - OCEMG. Tal escolha se fez
tendo em vista a precariedade das informações obtidas na Junta Comercial, sendo
assim, na OCEMG foi possível coletar dados mais precisos (ainda que não
totalmente confiáveis), pois é uma entidade especializada no ramo
cooperativista. A OCEMG classifica as cooperativas de acordo com os seus
estatutos e ramos de atividade, apesar de ser uma classificação precária,
possibilita um trabalho mais objetivo dos dados. As cooperativas se dividem da
seguinte maneira: Agropecuário; Consumo; Crédito; Educacional; Especial;
Habitacional; Mineral; Produção; Trabalho; Turismo e lazer. Quando porém se
observa com maior cautela as listagens por ramo de atividade da OCEMG, é
possível perceber que a classificação apresenta algumas inconsistências uma vez
que não há um rigor conceitual e metodológico para tal classificação. No
entanto, tais problemas não foram relevantes no contexto da pesquisa, uma vez
que se trata de um trabalho exploratório.
O que chama a atenção em um primeiro momento é que as
cooperativas que têm destaque em termos de crescimento são ligadas ao ramo de
trabalho e saúde. Sabe-se que as cooperativas do ramo da saúde em geral
representam grupos sociais bem estruturados em termos de qualificação, o que
teoricamente confere a esses indivíduos uma posição privilegiada no mercado.
Por outro lado, as cooperativas de trabalho se inserem em uma diversidade de
atividades, onde as qualificações e a organização interna, nem sempre
correspondem a ganhos no mercado. Diversos autores têm chamado a atenção para o
grave problema das “coopergatos”, cooperativas fraudulentas, que na verdade
funcionam como fachada, de forma a burlar as leis trabalhistas. As principais
denúncias dessa prática relaciona-se com cooperativas de trabalho, o que põe os
dados acima sob suspeita.
No
caso de Minas Gerais os números do cooperativismo são expressivos, ainda assim
as cooperativas estão longe de representar uma força expressiva na economia
mineira e brasileira.
Números do Cooperativismo Mineiro
|
Número Total de Cooperativas |
770 |
|
Número
Total de Funcionários |
22.718 |
|
Número Total de Associados |
697.147 |
|
Ramo de
Atividade |
N° de
Cooperativas |
N° de
Associados |
N° de
Funcionários |
|
Agropecuário |
175 |
135.630 |
14.366 |
|
Consumo |
21 |
105.360 |
1.190 |
|
Crédito |
254 |
290.204 |
3.111 |
|
Educacional |
37 |
10.908 |
556 |
|
Especial |
0 |
0 |
0 |
|
Habitacional |
7 |
2.352 |
7 |
|
Infra -
Estrutura |
2 |
4.227 |
14 |
|
Mineral |
1 |
397 |
1 |
|
Produção |
3 |
334 |
17 |
|
Saúde |
123 |
104.981 |
2.842 |
|
Trabalho |
99 |
32.102 |
172 |
|
Transporte |
47 |
10.630 |
442 |
|
Turismo
e Lazer |
1 |
22 |
0 |
|
TOTAL |
770 |
697.147 |
22.718 |
Fonte:
Gerência Técnica / OCEMG - Posição em 06 de Dezembro de 2004.
Destaca-se na tabela acima o grande número de
cooperativas no setor agropecuário e de crédito, na verdade são ramos que têm
uma tradição nas formas cooperativas, sendo as cooperativas de crédito
inseridas inclusive em uma outra relação jurídica com o Estado. Para fins da
pesquisa de campo foram escolhidas duas cooperativas de trabalho e duas no ramo
da produção. Tal escolha se justifica pelo fato de que o ramo trabalho, como
dito anteriormente, tem sido alvo de constantes denúncias. Por outro lado, as
cooperativas de produção têm se destacado justamente por aparentarem ser uma
real alternativa para os trabalhadores.
6. Da coesão
teórica à fragmentação empírica
Em primeiro lugar, é preciso pensar o cooperativismo
enquanto uma proposta de uma nova relação econômica e social e o que
efetivamente ocorre na prática. Para tanto, a investigação empírica baseou-se
naquilo que seria a diferença entre uma empresa de heterogestão e de
autogestão.
A partir da pesquisa de campo, pode-se observar que,
existem cooperativas em Minas Gerais como a Cooperativa de Produção Mineira de
Equipamentos Ferroviários Ltda – COOMEFER - em que é possível visualizar alguns
princípios da autogestão, como por exemplo, democracia interna, gestão aberta e
flexível, forte solidariedade entre os cooperados, clima de confiança e coesão.
A cooperativa é formada por 622 cooperados que trabalham alternativamente na
produção (chão da fábrica). Os que trabalham na administração são funcionários,
o que em princípio denota uma certa inversão do status tradicional da empresa
capitalista. Os comitês têm um funcionamento efetivo, com atuação constante no
sentido de conscientização e resolução de problemas internos.
Por outro lado, a Cooperativa de Produção de Artigos
Téxteis –COOPETEX – possui um cotidiano e uma estrutura interna ainda muito
semelhante à antiga fábrica. Há 180 cooperados, sendo que uma boa parte é de ex
funcionários da antiga fábrica, havendo uma nítida separação entre aqueles que
trabalham na produção e na administração. É possível perceber, através de
relatos do cotidiano que há um certo distanciamento entre trabalhadores de
colarinho branco versus produção, relações de desconfiança e uma participação democrática
frágil.
Na Cooperativa dos Profissionais de Serviços
Múltiplos - COOPSERVIÇO, existem 3229 cooperados, sendo que apenas 30% estavam
em atividade, e seu objetivo é oferecer mão-de-obra ao mercado. Apesar de
manter uma relação dúbia com relação às empresas que presta serviços, foi
possível perceber internamente um certo grau de coesão entre os cooperados. Há
uma participação significativa dos cooperados nas assembléias, são oferecidos
cursos sobre cooperativismos para os novatos, bem como eventos que objetivam a
integração dos membros. A COOPSERVIÇO não deixa de ser um centro de
recrutamento de mão de obra, mas o faz de modo mais coeso, percebe-se isso na
atenção destinada aos inativos que mesmo ociosos gozam dos mesmos direitos dos
ativos, ou seja, seguro de acidentes pessoais, convênios e remuneração a
gestantes. A única condição para gozar destes benefícios é de pertencer à
cooperativa a mais de um ano.
Já a Cooperativa Nacional de Profissionais Autônomos
Ltda - CNAP, compõe-se de 1.314 cooperados e 9 funcionários. Seu objetivo é
oferecer mão-de-obra ao mercado dentro de vários segmentos, desde faxineiros a
engenheiros. O cadastro da CNAP se divide entre ativos e inativos, os ativos
estão atualmente trabalhando e devem contribuir com 3,5% a 6% do total do pro
labore para a cooperativa. A CNAP é uma cooperativa multifuncional que procura
no mercado a inserção de seus cooperados e já está funcionando a mais de oito
anos. A escolha dos cooperados para a efetuação de determinado serviço gira em
torno de dois critérios, o primeiro é puramente técnico e o segundo é se dá por
rodízio. Os inativos da CNAP não contribuem para a cooperativa e provavelmente
a maioria desligaram-se da mesma porque encontram o “resguardo” do trabalho
formal.
7.
Considerações Finais
Em primeiro lugar, tanto o cooperativismo quanto a
tentativa de se estabelecer uma “outra economia” não são novidades.
Historicamente, os contextos de crise do capitalismo são acompanhados por
movimentos que ora buscam remediar a situação, ora procuram apresentar
alternativas ao modelo econômico vigente. Mas é bom lembrar que o que
vivenciamos hoje não é simplesmente uma crise do capital, mas sim uma mudança
estrutural que tem conformado uma nova organização política e social a partir
da desestruturação da sociedade salarial.
A EPS tenta estabelecer uma alternativa ao sistema
capitalista com base em uma nova organização da produção que implica em um
redirecionamento nas ações humanas, em última instância, em um novo humanismo.
O princípio da dádiva aparece como o balizador das relações que se estabelecem
entre os indivíduos. Se por um lado é possível vislumbrar tal postura em
determinados empreendimentos, não se pode afirmar, porém, que é algo que se tem
generalizado. Os próprios empreendimentos ligados a EPS, a princípio, se
mostram um tanto quanto frágeis diante dos desafios colocados no mundo
contemporâneo.
Por outro lado, as cooperativas estudadas traduzem em
grande parte o universo do cooperativismo mineiro, ou seja, não é possível
propriamente falar que o boom de crescimento das cooperativas se traduz
em um movimento cooperativista. É claro que não se trata de uma generalização à
partir do estudo de caso, mas antes de mais nada, trata-se de constatar que o
tema carece de uma discussão mais apurada, bem como há uma necessidade de um
maior conhecimento qualitativo das cooperativas, sua lógica de funcionamento,
relação com o mercado e com o Estado.
No caso das cooperativas estudadas existe um ponto
comum entre as quatro, o surgimento delas está intrinsecamente relacionado com
a atual crise do trabalho. As cooperativas de produção em questão foram criadas
a partir do momento em que as antigas empresas entraram em processo de
falência, já as cooperativas de trabalho representam de alguma forma uma resposta
imediata à crescente diminuição do emprego padrão, tendendo a ser muito mais um
meio de subsistência do que propriamente uma ação transformadora. Aqui há uma
questão de fundamental importância, será que as cooperativas, na sua grande
maioria, tendem a se posicionarem de forma passiva diante do mercado? Mais
ainda, será que a instituição mercado de trabalho prevalece sobre os supostos
ideais de sociabilidade que permeiam o discurso cooperativista?
Tais questionamentos não podem minimamente ser
respondidos através dos casos aqui brevemente apresentados, no entanto, podemos
perceber que o fio condutor que poderá nos levar a observações mais
aprofundadas sobre tal objeto tem haver em primeiro lugar com a lógica interna
de funcionamento das cooperativas, em segundo, com a sua relação com o mercado
e, em terceiro lugar, com a relação entre as próprias cooperativas. Por fim,
cabe ainda investigar a relação das cooperativas com a comunidade local, o
impacto que tal empreendimento traz para a comunidade local.
Referências
Bibliográficas
AMARAL,R. Projeto cidadão – a experiência de geração
e renda e emprego em Maceió in Geração de emprego e renda no Brasil –
experiências de sucesso. Rio de Janeiro: DP&A, 1999.
BORGES, E. M. A Qualificação Profissional no âmbito
do PLANFOR: um estudo dos programas executados em 1996–1998. Dissertação de
mestrado apresentada ao curso de Economia Social e do Trabalho do Instituto de
Economia da UNICAMP. Campinas. 1999.
CASTEL, R. As Metamorfoses da Questão Social – uma crônica do salário. Petrópolis: Vozes, 1998.
CASTELLS, M. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e
Terra, 1999.
CLASTRES, P. A Sociedade Contra o Estado – pesquisas
de antropologia política. São Paulo: Cosac & Nacif, 2003.
GUIMARÃES, V.
N. et al. Autogestão de Empreendimentos:
experiências no Estado de Santa Catarina. XXIII Simpósio de Gestão da Inovação
Tecnológica, Curitiba, PR, 2004.
HOLZMANN, L. Limites e obstáculos à participação
democrática in A Economia Solidária no Brasil – A autogestão como resposta ao
desemprego São Paulo. Contexto. 2000. LECHAT, N. & SCHIOCHET, V. Economia
da dádiva in CATTANI, A. D. (org) A Outra Economia. Porto Alegre: Veraz
Editores, 2003.
MARTINS, Carlos Estevam. Da globalização da economia
à falência da democracia.in Revista do Instituto de Economia da Universidade
Estadual de Capinas. n 26. 1996.
MARX, K. O Capital – crítica da economia política.
Livro I, volume I. São Paulo: DIFEL, 1982.
MARX & ENGELS. Manifesto do Partido Comunista.
São Paulo: DIFEL Difusão Editorial S/A, 1982.
MAUSS, M. Ensaio sobre a dádiva. São Paulo: Edições
70, 2001
PEDRINI, D. M. Bruscor:uma experiência que aponta
caminhos in A Economia Solidária no Brasil – A autogestão como resposta ao
desemprego. São Paulo. Contexto. 2000. SINGER, Paul. Globalização e desemprego:
diagnóstico e alteridades. 4.ed. São Paulo: Contexto, 2001.
SIQUEIRA, C. A. Programa SER – programa de emprego e
renda da cidade de Natal in Geração de emprego e renda no Brasil – experiências
de sucesso. Rio de Janeiro: DP&A, 1999.
SOUSA SANTOS, B. (Org.) Produzir para viver – os
caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2002.
TESCH, W. Identidade e desenvolvimento da economia
social: fortalecimento da autogestão e da cidadania in Economia Solidária – O
desafio da democratização das relações de trabalho. São Paulo. Arte &
Ciência, 1999.
VIEITEZ, C. G. & Dal Ri, N. M. A economia
solidária e desafio da democratização das relações de trabalho no Brasil in
Economia Solidária – O desafio da democratização das relações de trabalho. São
Paulo. Arte & Ciência, 1999.
VIEITEZ, C. G. & Dal Ri, N. M. Trabalho associado
– Cooperativas e empresas de autogetão. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
WAUTIER, A. M. Economia Social na França in A Outra
Economia, CATTANI, A. D. (org). Porto Alegre: Veraz Editores, 2003.
www.ocemg.org.br
acesso em 16 fevereiro de 2005.